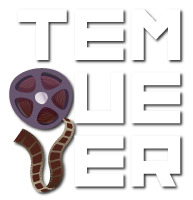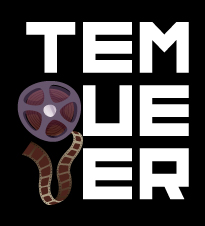Por Breno Matos*
A cada novo filme de Lanthimos que vejo, me corre uma forte sensação de que todo o seu cinema é calcado na famosa frase de Rousseau: “O homem é bom, mas a sociedade o corrompe”. Não que o cineasta grego seja um grande apaixonado pela pureza do ser humano; ele já demonstrou que pureza e paixão não estão na sua lista particular de apreciação. Yorgos Lanthimos é um desses cineastas contemporâneos que sentem o prazer em querer transmitir grandeza, ainda que isso seja feito através de artifícios isolados inerente ao discurso de suas obras, ou uma “simples” contemplação dos próprios truques cruéis de narrativa, e ao que me parece, boa parte do público crítico e os votantes de premiações americanas atuais que consome cinema, ainda que moderadamente, adoram truques e contemplações de aspectos técnicos – não a toa vemos uma enxurrada de elogios para qualquer filme que estreie que tenha um mísero plano-sequência em sua duração –, uma das provas disto é Dente Canino, de 2009, ser um dos filmes mais lembrados e premiados da filmografia do diretor, e os prêmios não acabam por aí, pois A Favorita, de 2018, recebeu sua aclamação, e agora Pobres Criaturas seguem o mesmo trilho.
Baseado no livro homônimo de Alasdair Gre, a história se passa na Era Vitoriana e acompanha Bella Baxter – interpretada por Emma Stone –, que ao pular de uma ponte para se matar, é trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do próprio filho que ainda não nasceu, pelo doutor Godwin Baxter – interpretado por Willem Dafoe –, um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. Existem um mar de referências e influências que cobrem Pobres Criaturas, que vão desde Mary Shelley; autora de uma das histórias mais lembradas, cultuadas e adaptadas Frankenstein, de 1818; Lewis Caroll com seu icônico Alice no País das Maravilhas, de 1865; e claro, o expressionismo alemão, relembrando resquícios de O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, até estilos mais atuais como os de Tim Burton e Lars von Trier; e o resultado é quase uma pseudo-comédia romântica gótica que tenta dialogar com uma crítica da sociedade ao longo do tempo, discorrendo a posição da mulher dentro dela, “defendendo” um mundo sem polidez, regras ou o senso clássico e convencional de ética; e tudo isso é coberto por um mal gosto embutido do próprio cineasta, e uma visão de mundo igualmente deprimente a que ele aborda e ataca. Fica claro a incoerência por parte de nosso diretor, onde os discursos são, acima de tudo, condescendente, pois parte daquilo que tenta atacar é o que também destila dentro do encaminhamento das jornadas e suas conclusões decupadas propositalmente para militar; principalmente na sequência final – um clássico desfecho novelesco – onde acontece o seu sonhado final feliz para esta história.
Não que a obra seja de mal gosto esteticamente também. Longe disso! Os aparatos mais técnicos são louváveis superficialmente; tem uma criatividade visual muito interessante para a fantasia que lembra HQs do gênero, e as próprias influências citadas acima, com um bom trabalho no figurino e maquiagem. Não vejo nenhum grande motivo para me sentir empolgado com o elenco, sinceramente, apesar do ótimo Willem Dafoe, o que me parece um grandíssimo exagero toda a adoração sobre Emma Stone, e sua atuação. No entanto, tudo isso é apenas um conjunto de artifícios da linguagem do cinema que servirão como uma base para a sustentação de uma ideia, de um argumento principal; claro que nem todos os filmes devem ser avaliados por um único espectro, mas existem filtros e contextos, e um filme que busca defender uma temática, um posicionamento; os artifícios citados passam a ser essa base, e não a essência de uma obra. Belos “efeitos visuais” não garantem um bom resultado enquanto cinema, e aqui a ideia, o texto, e a defesa, são trabalhadas num nível que recai na mediocridade pela falta de compromisso com o mesmo em prol de uma exaltação de si.
Parafraseando Eduardo Coutinho, que em uma de suas grandes frases em entrevistas disse que o cinema é um mar de questionamentos, e os filmes que entregam todas as respostas devem ser descartados, os que importam mesmo são os que levantam os questionamentos. Lanthimos não só responde os próprios questionamentos que levanta, como parece querer impor sua visão doentia de mundo a cada obra feita, e o pior de tudo; parece se satisfazer no processo em que esbanja todos os recursos tecnológicos para gerar uma “grande” experiência para o seu público. É um senso de egocentrismo que exala em cada canto estilizado de uma obra carregada pelos excessos. Aqui ao menos, por vezes o diretor parece se divertir mais dentro do próprio universo e se esquece do tema; sim, são momentos de instabilidade que destoam do discurso, mas geram as melhores sequências – como a de Lisboa, por exemplo, em que Stone caminha pela cidade encontrando beleza dentro do simples que lembra o trabalho de Lewis Caroll citado acima –, mas logo o filme se lembra de seu objetivo mesquinho, e nos voltamos para os mesmos problemas.
*Escritor e crítico de cinema, Breno é autor dos livros; Por Trás de um Sol e Sobre Pássaros e Caracóis. Também analisa filmes recém lançados e divulga grandes autores da sétima arte através de sua página Lanterna Mágica Cinema no instagram. Além de também ser o criador e organizador da premiação amadora de cinema Kurosawa de Ouro. Seu filme do coração é Persona, e respectivamente Ingmar Bergman seu diretor favorito.